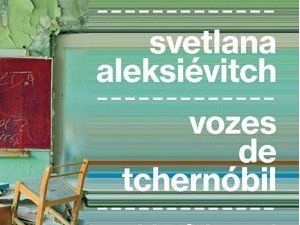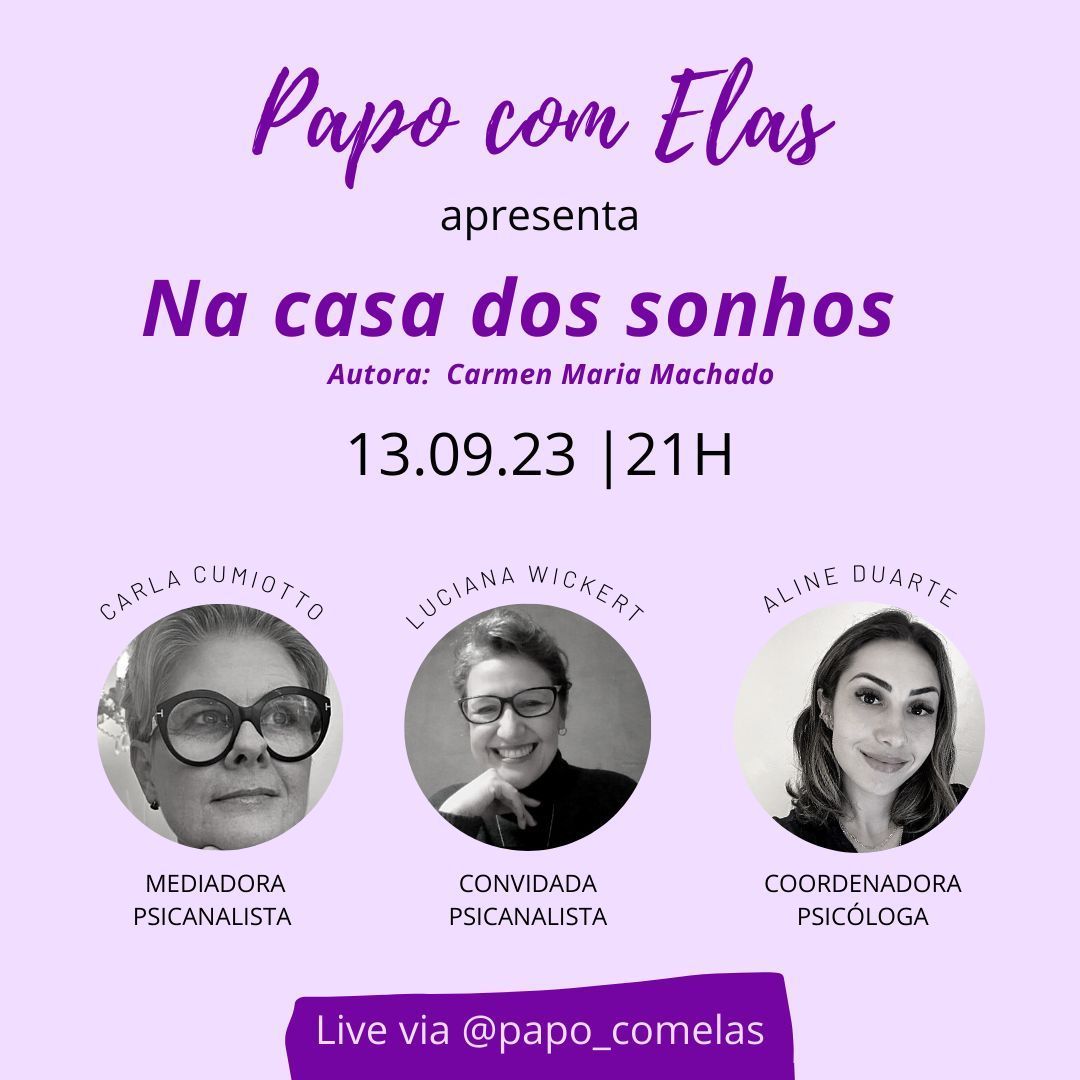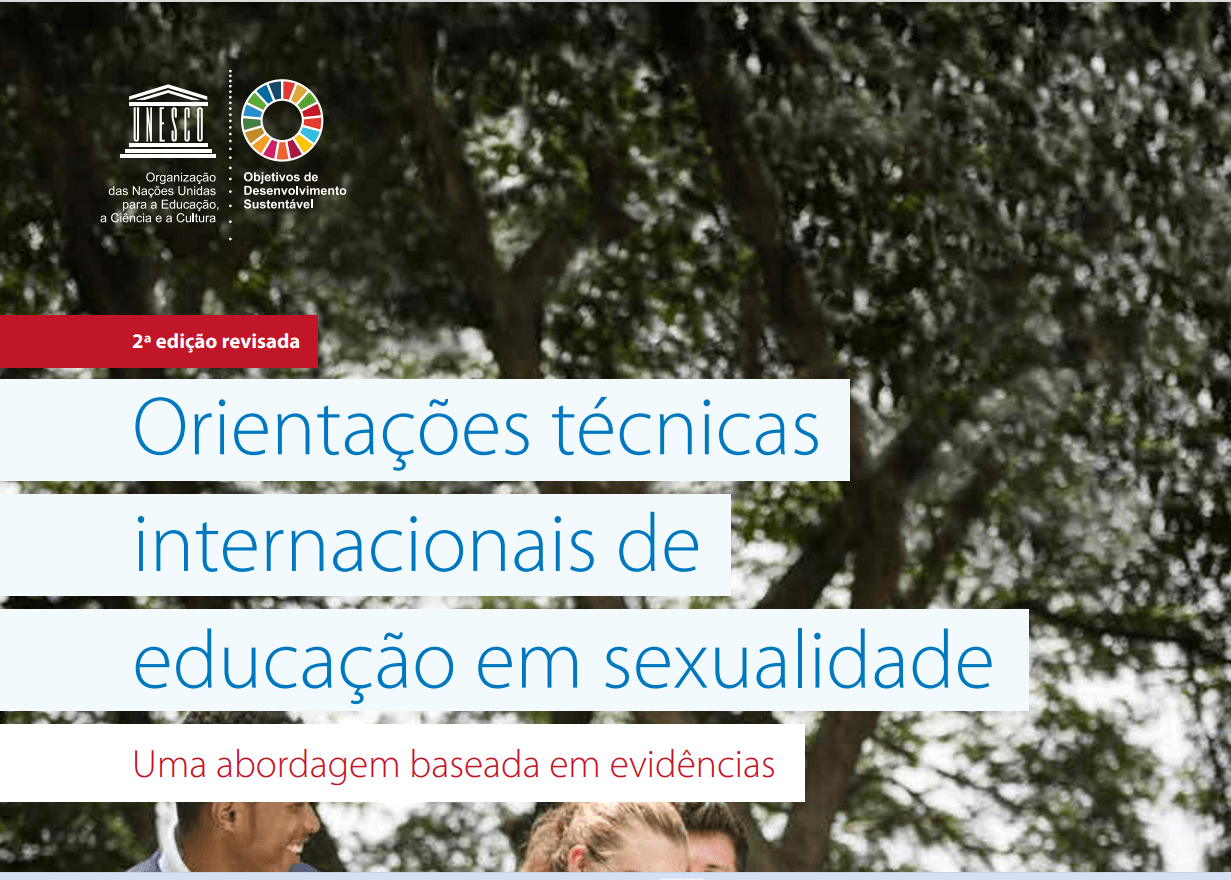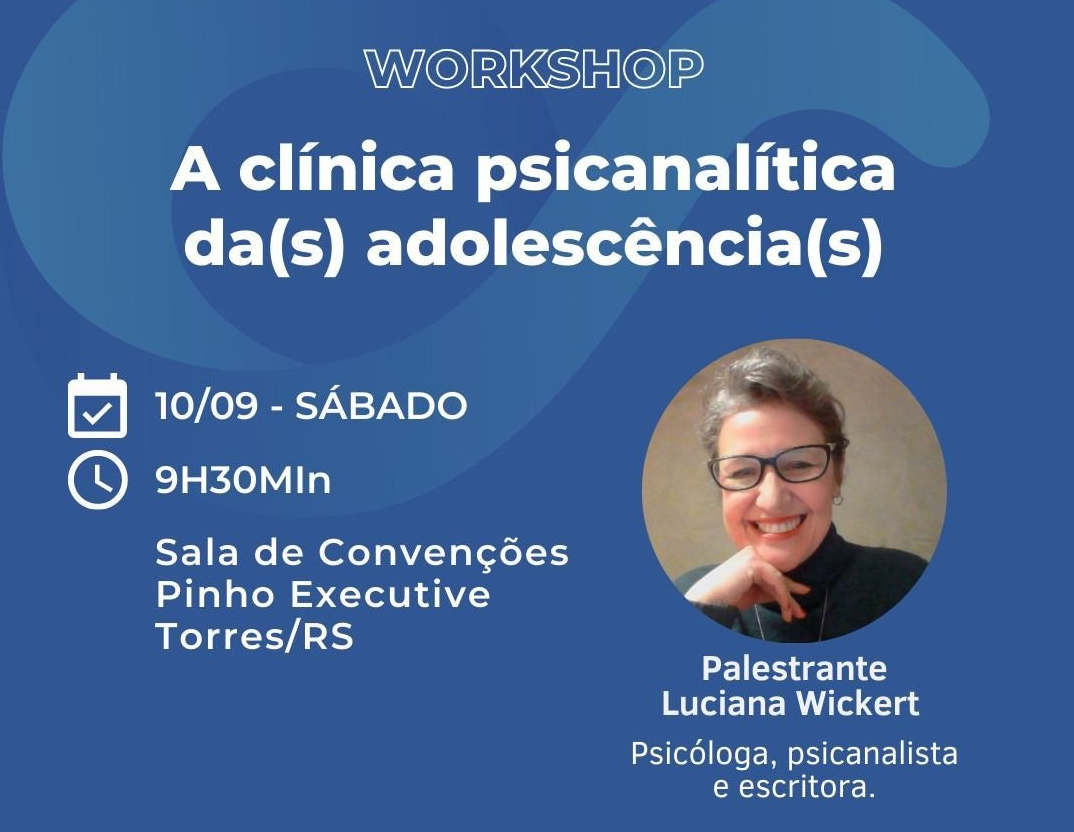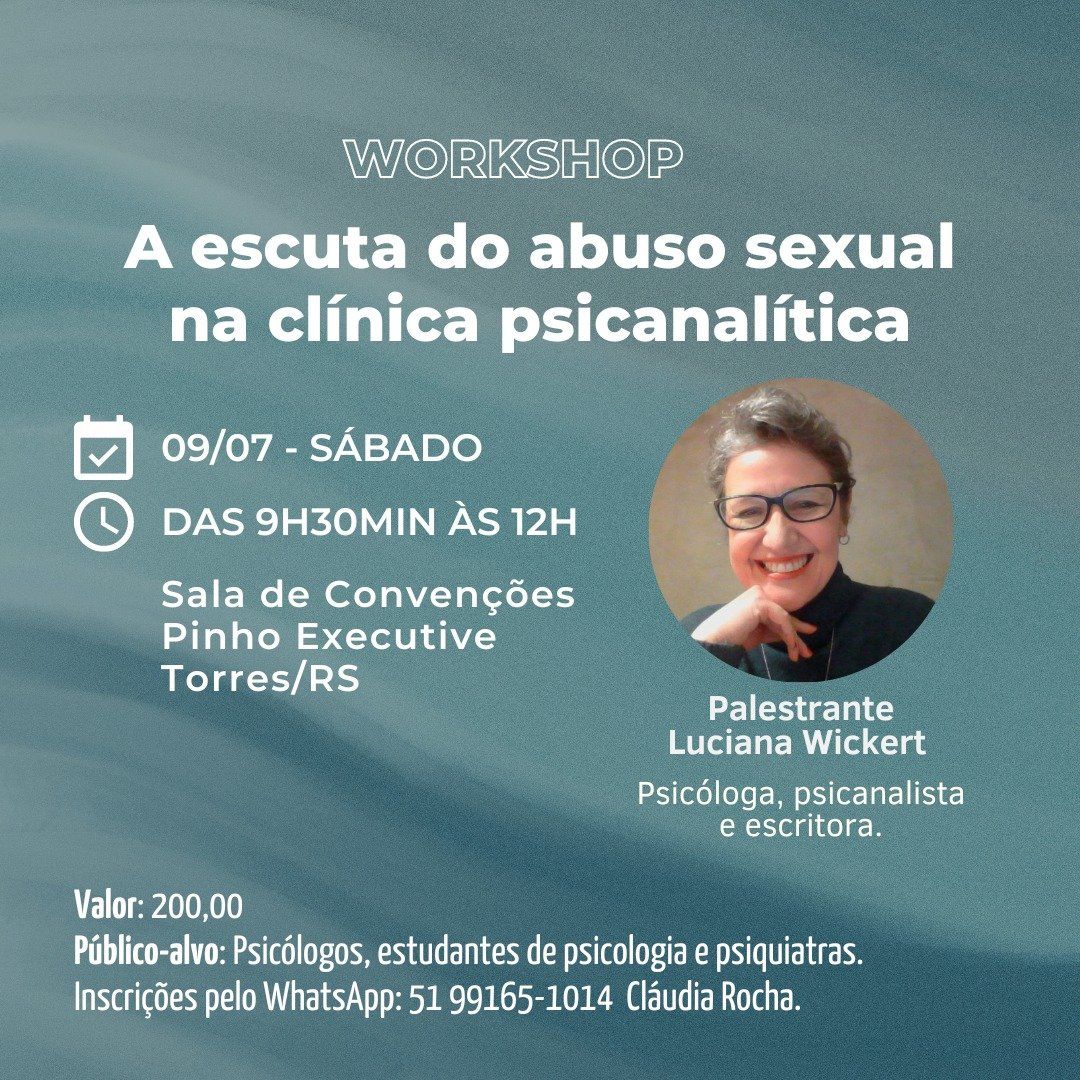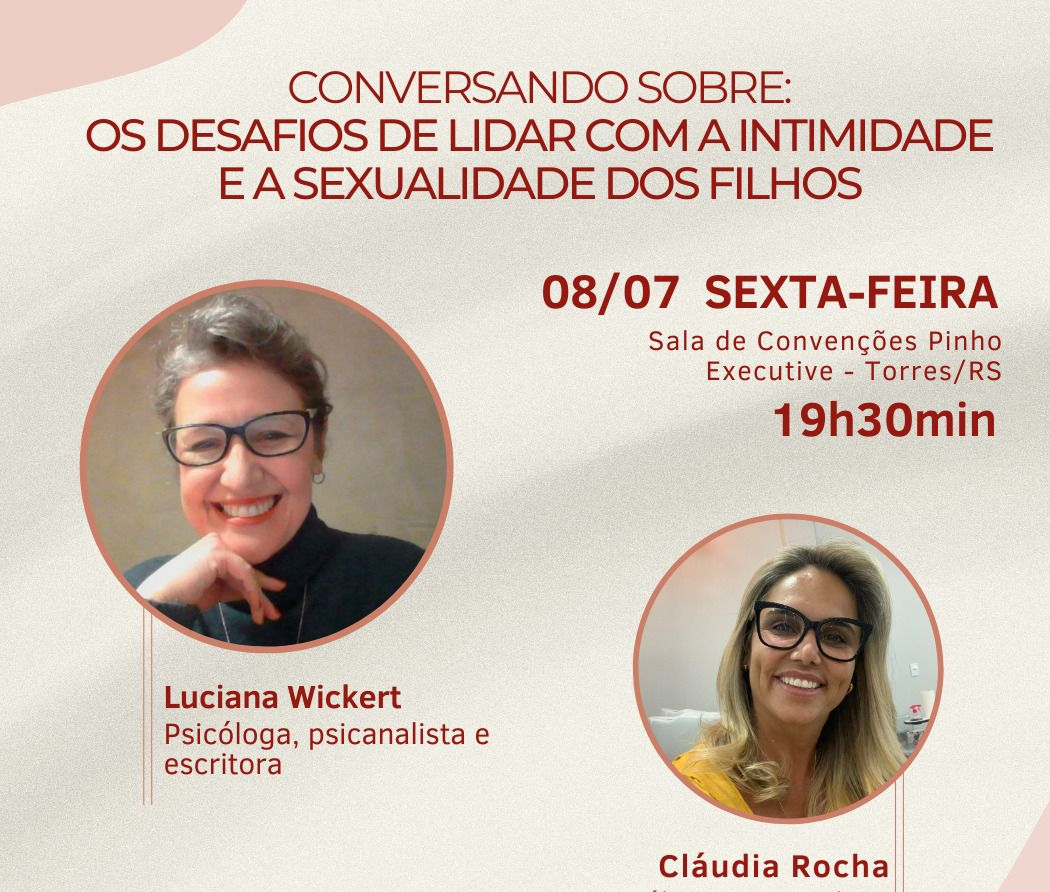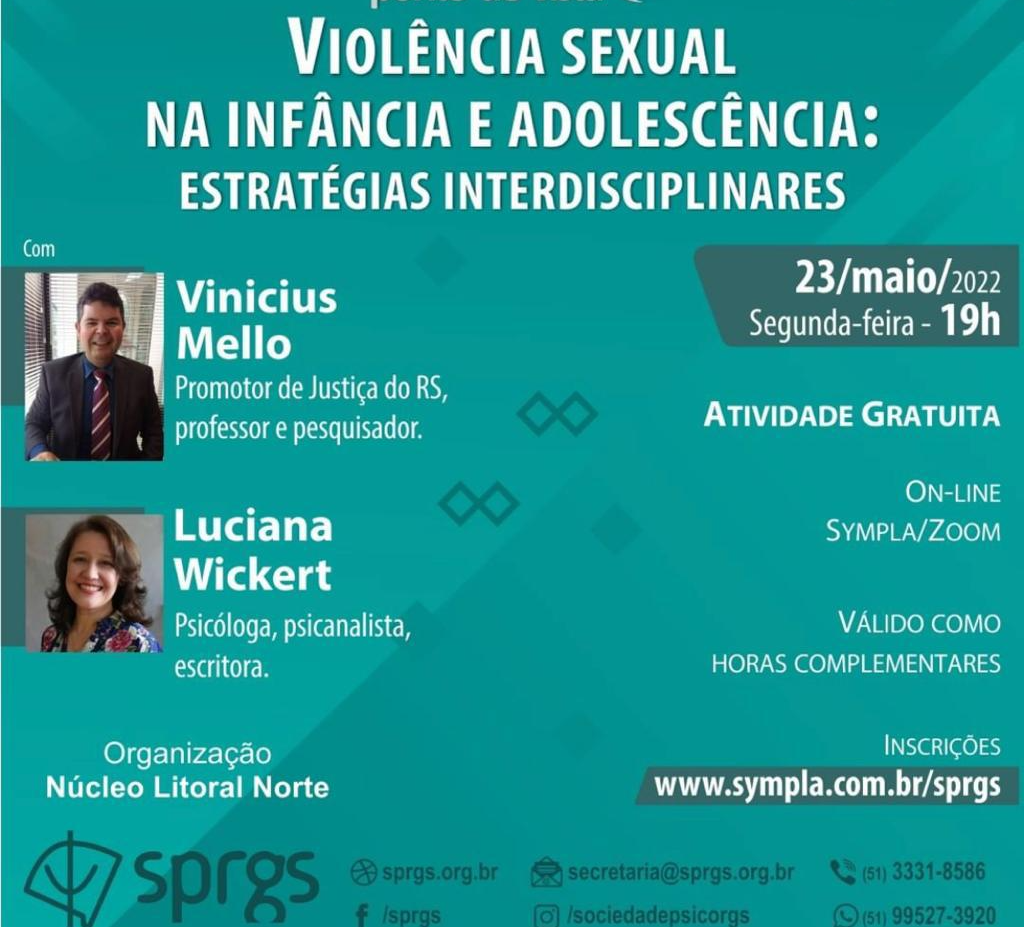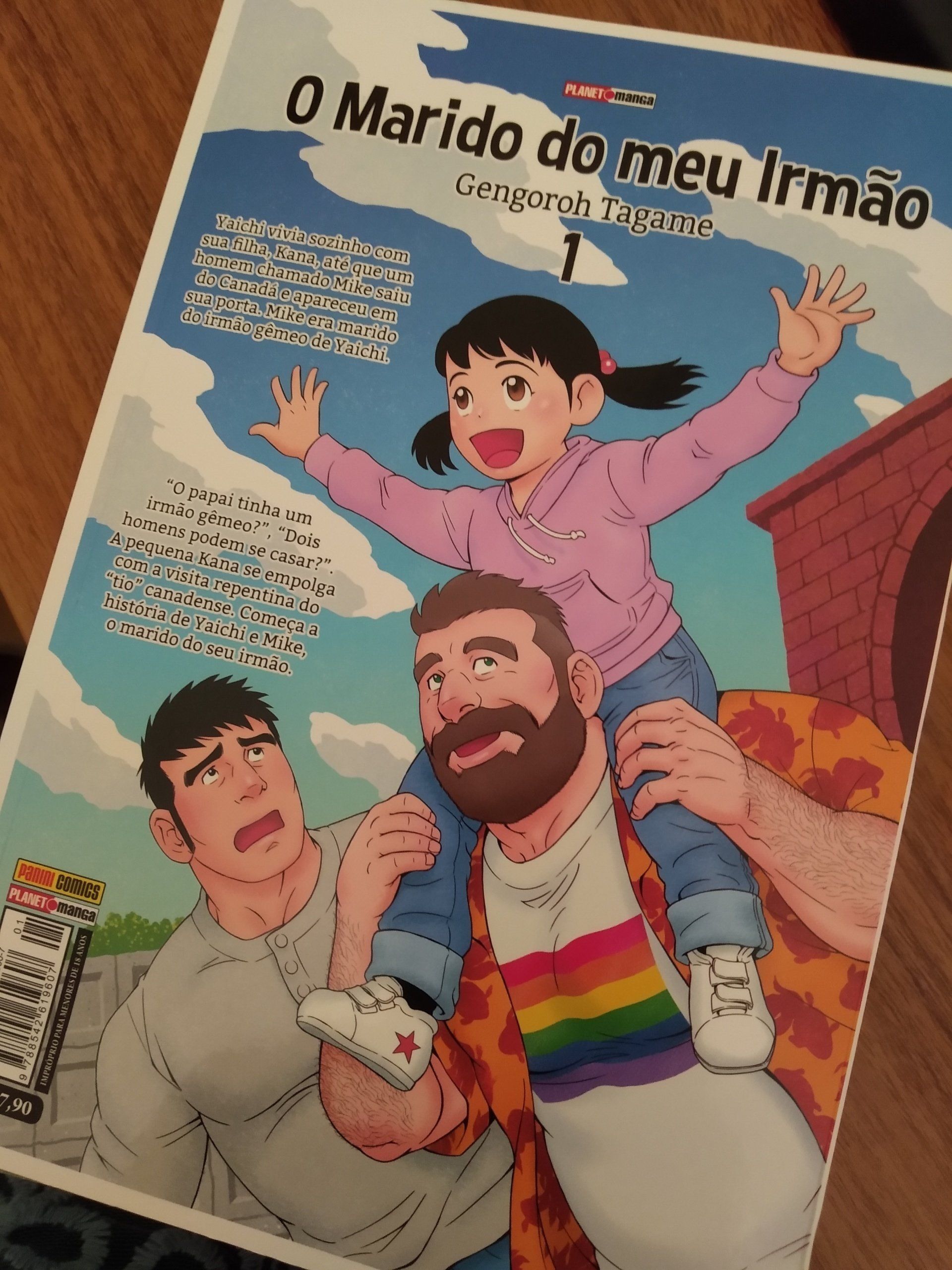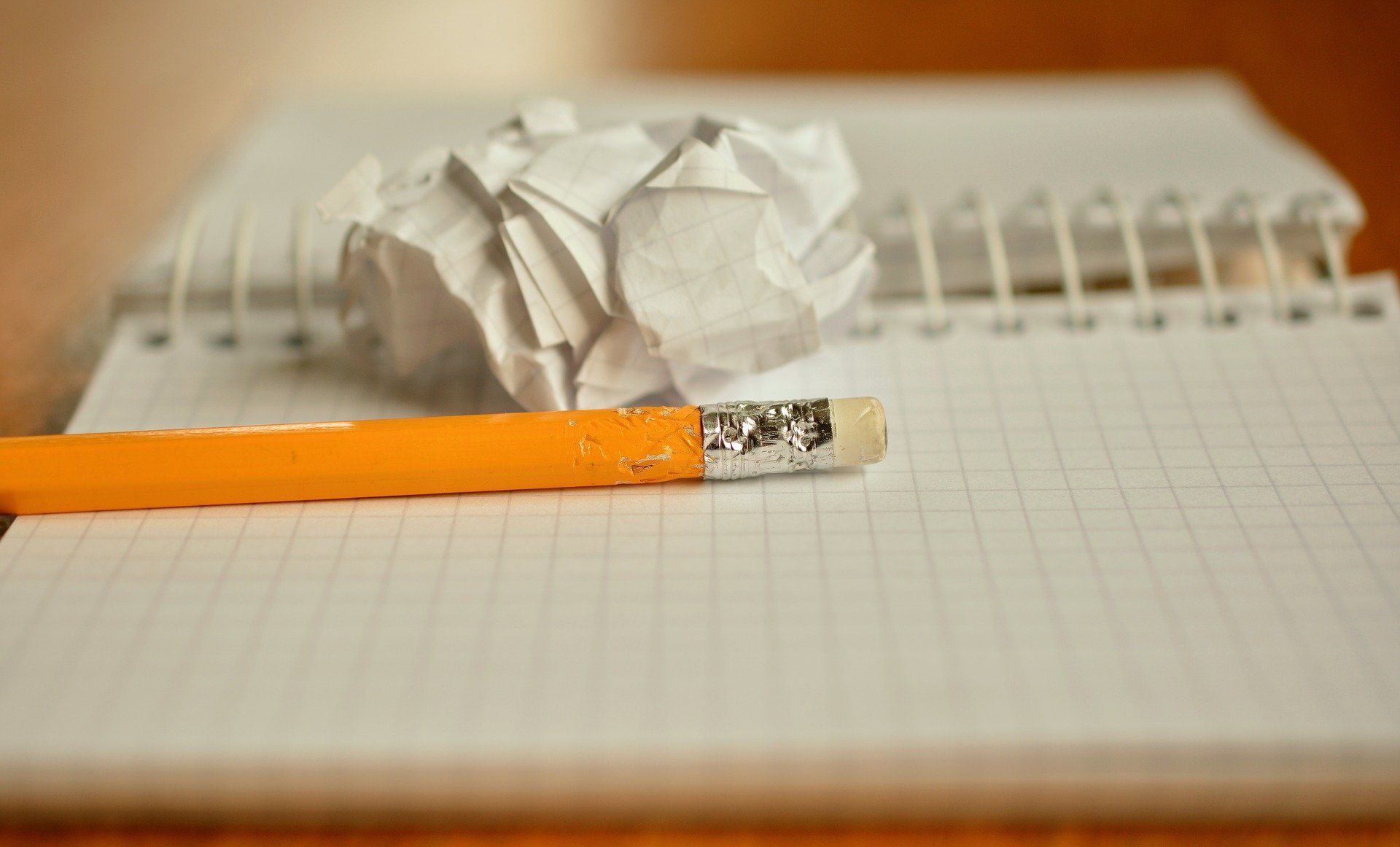Dicas de terça
Vozes de Tchernóbil
Em 1986, quando ocorreu o vazamento nuclear em Tchernóbil eu tinha 12 anos. Lembro vagamente das notícias no telejornal e das discussões em sala de aula. O tema era a ameaça nuclear. Vivíamos ainda o embate da guerra fria. O bloco soviético versus o americano. Quem lançaria uma bomba atômica e iniciaria a terceira guerra mundial? Eu não tinha muito claro o que era uma usina nuclear. Não sabia que Tchernóbil fornecia energia elétrica para os moradores locais. Tampouco, tinha a dimensão de quantas pessoas haviam sido afetadas pelo desastre. Os anos passaram, eu cresci e o tema ficou um tópico de uma história esquecida. Queda do muro de Berlim, fim da União Soviética, ascensão de novas potências mundiais, guerras por petróleo e poder. Tchernóbil ficou distante. Aliás, a incompreensão leva a distância.
O que significa efetivamente uma catástrofe desta ordem na vida das pessoas? Não há como mensurar o quão é difícil narrar o inexplicável em primeira pessoa. A palavra é esforço. A literatura, a história, os relatos são modos de criar testemunho/escuta, pois é preciso registrar/ouvir para que não se repita.
O livro Vozes de Tchernóbil da escritora Svetlana Aleksiévitch recupera uma parte da história do século XX. Parte do relato de homens, mulheres e crianças que sentiram na pele, nos ossos, na perda dos amores, a vida transformada pelo átomo. Literalmente, de um dia para outro, viram a “energia limpa” marcar as flores, a comida, o solo, os genes, as pessoas.
Fica a dica!